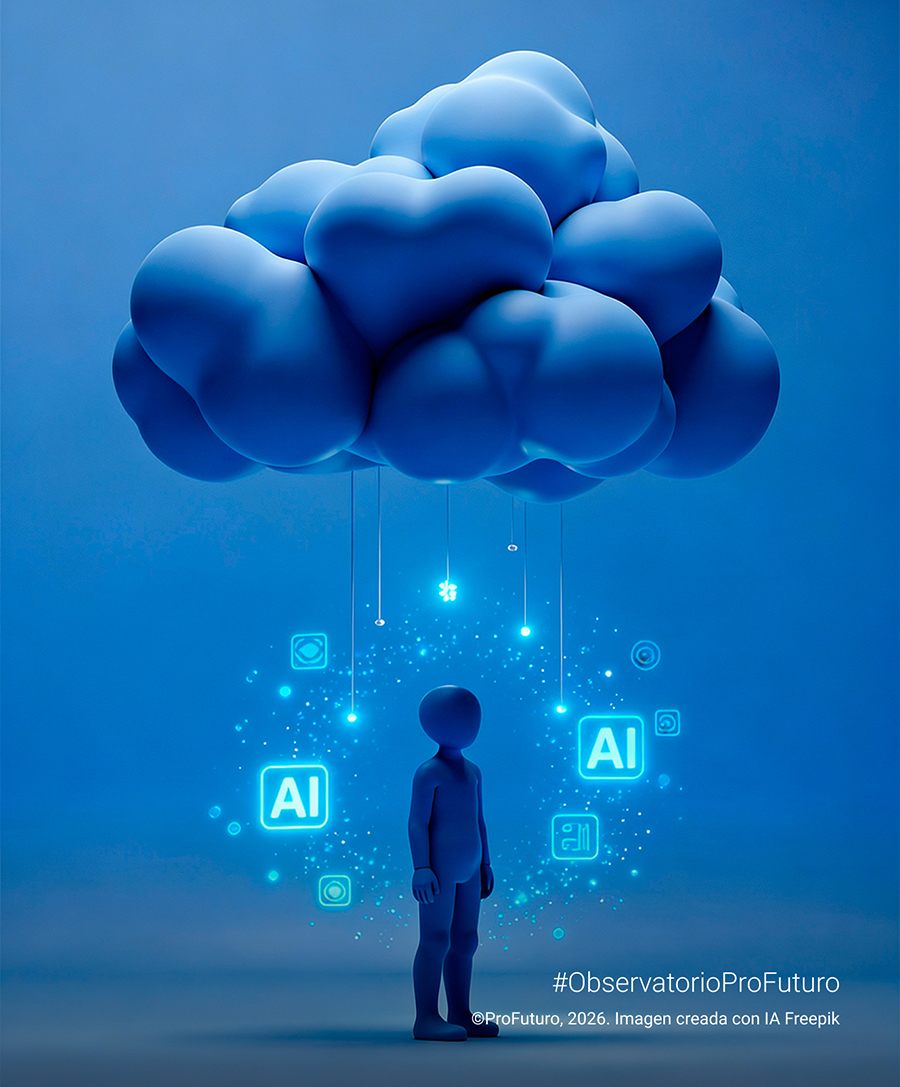Por muito tempo, a criatividade ocupou um lugar ambíguo no discurso educacional: embora fosse celebrada como um valor simbólico, raramente era tratada como uma capacidade central. Hoje, em um contexto marcado pela automação e pela expansão da inteligência artificial, esse status mudou. Empresas, organismos internacionais e especialistas concordam em apontar o pensamento criativo como uma das competências mais relevantes para atuar em um mercado de trabalho em transformação.
No entanto, esse reconhecimento entra em choque com uma realidade paradoxal: à medida que avançam na escolarização, muitas crianças e jovens vão perdendo a capacidade de gerar ideias originais, explorar alternativas ou pensar sem medo do erro. Ou seja, justamente quando a criatividade começa a aparecer como uma competência estratégica, ela parece se tornar mais frágil. Compreender por que isso acontece e o que realmente entendemos por criatividade é o primeiro passo para enfrentar uma questão que atravessa a educação, o trabalho e a forma como aprendemos a pensar.
Neste artigo, fazemos isso com a ajuda de María Lourdes García Vázquez, professora, engenheira de sistemas computacionais e especialista em tecnologia educacional e criatividade.
Do que falamos quando falamos de criatividade
Falar de criatividade costuma ativar uma mistura de imagens difusas: a inspiração repentina, o talento artístico, a figura do gênio individual que cria à margem das regras. No entanto, vista a partir da pesquisa científica, a criatividade se mostra algo bastante diferente. Não é um atributo misterioso reservado a poucos, mas uma capacidade cognitiva que pode ser descrita, medida e, sobretudo, treinada.
Um dos trabalhos mais citados para compreender essa ideia é o estudo longitudinal conduzido no final dos anos 1960 pelo pesquisador norte-americano George Land. Inicialmente encomendado pela NASA para identificar o potencial inovador de engenheiros e cientistas, esse teste buscava medir o pensamento divergente: a capacidade de gerar múltiplas soluções para um mesmo problema. Após comprovar sua eficácia com adultos, Land decidiu aplicar o mesmo teste a um grupo de crianças e acompanhá-las ao longo do tempo. Os resultados foram impressionantes. Aos cinco anos, a imensa maioria superava o teste com facilidade. Aos dez, o percentual caía de forma significativa. Na adolescência, voltava a cair. Na idade adulta, apenas uma minoria mantinha esse nível de pensamento criativo.
A conclusão de Land não era que as crianças fossem naturalmente mais brilhantes. Era algo muito mais preocupante: a criatividade não desaparece por desgaste, mas vai sendo inibida. Ela não se perde, é desaprendida. Ao longo do processo educacional e social, aprender a dar a “resposta correta”, evitar o erro ou se ajustar a expectativas externas acaba reduzindo o espaço para explorar alternativas, formular novas perguntas ou tolerar a incerteza.
Essa leitura dialoga com décadas de pesquisa em psicologia cognitiva. Desde os trabalhos de J. P. Guilford nos anos 1950 até os estudos posteriores de E. Paul Torrance, a criatividade foi definida como uma habilidade distinta da inteligência medida pelo quociente intelectual. Ela não depende exclusivamente de conhecimentos prévios nem de habilidades técnicas, mas da capacidade de combinar ideias, estabelecer relações inesperadas e produzir respostas originais que sejam úteis ou valiosas em um determinado contexto.
Desfazer mitos é fundamental para entender do que estamos falando. Criatividade não equivale à inspiração súbita, embora às vezes se manifeste assim. Não é sinônimo de talento artístico, ainda que as artes sejam um de seus campos mais visíveis. Tampouco é uma forma de genialidade individual desvinculada do ambiente. Em termos operacionais, a criatividade pode ser definida como a capacidade de gerar ideias originais que tenham valor. Originalidade sem utilidade é ocorrência; utilidade sem originalidade é repetição.
Entendida dessa forma, a criatividade deixa de ser um conceito etéreo para se tornar um fenômeno observável. E, portanto, algo sobre o qual é razoável falar com base em dados, analisar como se desenvolve e questionar por que, em muitos casos, ela vai se apagando com o tempo.
Como e por que a perdemos
Se a criatividade pode ser entendida como uma capacidade cognitiva treinável, o que acontece ao longo do caminho para que essa capacidade se enfraqueça? A resposta aponta para um conjunto de mecanismos que se reforçam mutuamente, especialmente no ambiente escolar.
Um dos mais evidentes é o peso da avaliação constante. Desde cedo, aprender passa a ser associado a acertar, responder corretamente e fazê-lo dentro de um tempo determinado. O erro, mais do que fazer parte do processo, transforma-se em um sinal de fracasso. Nesse contexto, explorar alternativas, testar soluções parciais ou formular perguntas sem resposta clara torna-se um risco. Pouco a pouco, pensar se transforma em uma atividade defensiva. Já não serve para explorar possibilidades, mas para evitar equívocos.
Esse processo favorece o domínio do chamado pensamento convergente: aquele orientado a encontrar a melhor resposta possível dentro de um conjunto limitado de opções. Trata-se de uma forma de pensamento necessária (sem ela não haveria rigor nem critério), mas insuficiente quando se torna a única. O pensamento divergente, que permite gerar múltiplas ideias, conectar conceitos distantes ou imaginar soluções não evidentes, é relegado a segundo plano. Não porque careça de valor, mas porque é mais difícil de medir, avaliar e gerir em sistemas pensados para a padronização.
O educador britânico Ken Robinson popularizou essa tensão ao destacar que os sistemas educacionais modernos foram concebidos no contexto da industrialização, com o objetivo de formar trabalhadores eficientes, previsíveis e adaptados a tarefas repetitivas. Seu argumento não era que a escola “mate” a criatividade de forma deliberada, mas algo mais estrutural: ela nunca foi pensada para protegê-la. Quando a prioridade é a homogeneidade, a criatividade fica de fora por definição, já que introduz variabilidade, incerteza e ritmos desiguais.
Esses mesmos mecanismos se reproduzem mais tarde em outros âmbitos. Em muitas organizações, a cultura do resultado imediato e a obsessão por indicadores quantificáveis reforçam a aversão ao risco. Testar algo novo implica a possibilidade de falhar, e o fracasso costuma ter custos visíveis. Nesse contexto, a inovação é celebrada no discurso, mas penalizada na prática. Ideias que não se encaixam nos marcos existentes tendem a ser descartadas antes mesmo de serem exploradas.
Sob essa perspectiva, a perda progressiva da criatividade não responde a um déficit individual, mas a uma lógica cumulativa. Ao priorizar repetidamente a correção em detrimento da exploração, a segurança em detrimento da curiosidade e a resposta em detrimento da pergunta, o espaço para pensar de outra maneira se reduz. Não porque a criatividade deixe de existir, mas porque os ambientes em que se aprende e se trabalha raramente são projetados para sustentá-la.
Ao priorizar repetidamente a correção em detrimento da exploração, a segurança em detrimento da curiosidade e a resposta em detrimento da pergunta, o espaço para pensar de outra maneira se reduz.
Por que a criatividade voltou agora ao centro do debate
Diante disso, de onde surge esse interesse renovado pela criatividade? Ele é impulsionado por transformações mais amplas no mundo do trabalho. Relatórios recentes sobre o futuro do emprego convergem em uma ideia: em um mercado cada vez mais automatizado, o pensamento criativo figura entre as competências mais demandadas pelos empregadores. Aquilo que durante décadas foi considerado acessório passa a aparecer como um fator diferencial.
A expansão da inteligência artificial ajuda a entender esse deslocamento. Os sistemas atuais se destacam justamente em tarefas associadas ao pensamento convergente: processar grandes volumes de informação, reconhecer padrões, otimizar respostas conhecidas ou executar procedimentos repetitivos com eficiência. Nesse terreno, as máquinas já superam os humanos em velocidade e precisão. O que elas não fazem (ao menos por enquanto) é formular novos problemas, imaginar usos não previstos ou combinar ideias de forma situada e com sentido contextual.
É aí que a criatividade adquire um valor estratégico. Formular boas perguntas, explorar alternativas, conectar conhecimentos de campos distintos ou redefinir um problema antes de resolvê-lo são habilidades que não se automatizam facilmente. Por isso, reaparecem nos discursos empresariais e nas agendas educacionais.
Esse deslocamento também explica certa tensão no debate atual. Exige-se criatividade, mas mantém-se intacto o modelo de formação que a relega. Pede-se inovação, mas continuam sendo premiadas a previsibilidade e o cumprimento estrito de objetivos de curto prazo. A inteligência artificial não criou essa contradição, mas a tornou mais visível. Ao automatizar o que antes ocupava grande parte do trabalho humano, ela expõe aquilo para o qual não preparamos suficientemente as pessoas: pensar além dos procedimentos conhecidos, explorar alternativas e redefinir problemas antes de resolvê-los.
Como ativamos a criatividade? O que diz a ciência
Se a criatividade não é um traço inato nem um ato espontâneo, mas uma capacidade que pode ser desenvolvida ou inibida, a pesquisa acumulada permite identificar certas condições que favorecem seu surgimento. Padrões que se repetem com notável consistência em contextos educacionais, profissionais e formativos.
Uma das mais relevantes é a separação entre os momentos de criação e os de avaliação. Gerar ideias exige um espaço em que o julgamento seja suspenso. Quando a crítica surge cedo demais, as possibilidades se reduzem. Em contrapartida, quando primeiro se permite explorar e só depois se analisa, o leque de opções se amplia. Essa sequência, bem documentada em estudos sobre pensamento criativo, é difícil de sustentar em ambientes onde tudo precisa ser validado imediatamente.
Outra condição-chave é o tempo. A criatividade raramente prospera sob pressão constante. Não porque exija lentidão, mas porque precisa de margem para testar, descartar e recombinar. Na educação, isso se traduz em metodologias que privilegiam a aprendizagem baseada em projetos, nas quais os estudantes trabalham sobre problemas reais e complexos por períodos prolongados. No ambiente de trabalho, implica aceitar que nem toda exploração produz resultados visíveis no curto prazo.
O jogo aparece de forma recorrente como um ativador cognitivo. Pesquisadores como Mitchel Resnick, do MIT Media Lab, têm destacado seu papel na aprendizagem criativa por meio do grupo Lifelong Kindergarten, com o qual há décadas investigam como as pessoas aprendem quando experimentam sem um objetivo fechado, manipulam ideias como se fossem peças móveis e aprendem fazendo. O jogo introduz, assim, uma lógica de tentativa e erro que reduz o medo de errar e favorece a curiosidade.
A colaboração também desempenha um papel central, especialmente quando ocorre entre pessoas com perspectivas distintas. Confrontar ideias obriga a explicá-las, revisá-las e transformá-las. A criatividade, nesse sentido, não é um processo solitário, mas relacional. Muitas das ideias mais férteis surgem do encontro entre disciplinas, experiências e linguagens que, a princípio, não pareciam conectadas.
Por fim, o uso de metáforas, analogias e narrativas ajuda a transportar o pensamento criativo para novos terrenos. Comparar o desconhecido com o familiar permite compreender problemas complexos e abrir caminhos de solução. Não é por acaso que esses recursos aparecem tanto no ensino quanto na inovação científica e empresarial.
Em conjunto, as evidências apontam para uma direção clara: a criatividade não é inata nem se ativa por magia, mas pela criação de ambientes que a tornem possível. Ela depende menos do talento individual e mais de regras do jogo que permitam explorar sem penalização imediata.
É preciso dar espaço à criatividade
A paradoxa com que abrimos este artigo permanece. A criatividade é hoje mais necessária do que nunca, mas também mais vulnerável. Sabemos bastante bem que práticas a enfraquecem e que condições a favorecem. Não faltam dados, pesquisas nem experiências consolidadas. O que falta é a disposição para reorganizar os ambientes de aprendizagem e de trabalho para que essa capacidade tenha espaço real.
Educar sem matar a criatividade não exige acrescentar novas disciplinas. Implica aceitar que pensar de outra forma introduz incerteza, tempos menos previsíveis e resultados que nem sempre se ajustam a métricas simples. A questão de fundo é até que ponto estamos dispostos a assumir esse custo para preservar uma capacidade que dizemos precisar.