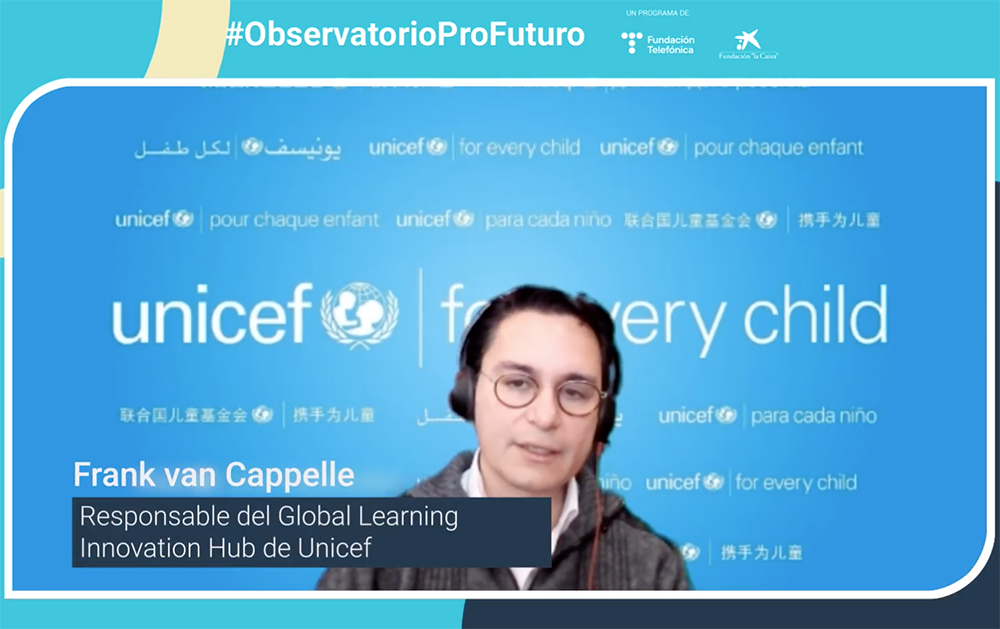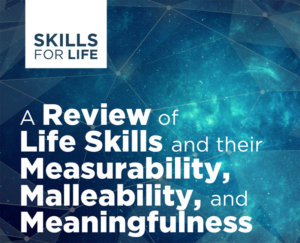
Existem habilidades que raramente aparecem no currículo, embora sejam essenciais para a vida. Elas são ensinadas (quando o são) de forma tangencial, entre a fila do refeitório e a briga no recreio. A empatia e a compaixão pertencem a esse grupo de competências quase invisíveis, que fazem uma enorme diferença e que, no entanto, mal contam nos programas oficiais.
Este artigo faz parte de uma série dedicada às dez habilidades para a vida que o Banco Interamericano de Desenvolvimento identificou como fundamentais: mensuráveis, ensináveis e com efeitos tangíveis no bem-estar e no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Já falamos sobre atenção plena e resolução de problemas. Agora é a vez da empatia e da compaixão.
Durante anos, elas foram consideradas parte do caráter, da personalidade ou, com mais frequência, da boa educação. Algo que se traz de casa, se houver sorte. Mas nos últimos tempos, graças às pesquisas em psicologia, neurociência e educação, ficou claro que não se tratam apenas de virtudes morais ou de traços temperamentais: são habilidades. E como tais, podem ser desenvolvidas, ensinadas e avaliadas.
Neste artigo vamos repassar o que significa exatamente ensinar empatia e compaixão, quais evidências sustentam esse ensino, quais programas funcionaram e o que podem fazer as escolas que decidirem levar essa tarefa a sério.
O que são empatia e compaixão?
O termo “empatia” é um dos mais usados da última década, algo que contribuiu tanto para sua fama quanto para sua banalização. No entanto, no contexto escolar, não está muito presente. O mesmo ocorre com sua companheira menos popular, a compaixão. Ela soa como uma virtude antiga, algo distante da linguagem administrativa dos sistemas educacionais.
A diferença entre ambas é simples. A empatia permite entender o que outra pessoa sente. A compaixão, além disso, impulsiona a fazer algo com esse conhecimento. Uma escuta. Um gesto. Um ato que alivie, ainda que um pouco. Se a empatia é saber que alguém sofre, a compaixão é querer que sofra menos.
Essas habilidades não funcionam sozinhas. Combinam pensamento e afeto. Exigem colocar-se no lugar do outro sem perder o próprio. É um equilíbrio sutil, que se aprende com a prática e o exemplo. Alguns aprendem em casa. Outros, nunca aprendem. Mas poucos aprendem na escola.
Segundo o relatório Skills for Life do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a empatia e a compaixão não são apenas qualidades desejáveis. São úteis. Melhoram a convivência, reduzem os conflitos, favorecem a cooperação. Mesmo que não apareçam no boletim, preparam melhor do que muitas disciplinas para a vida adulta. O relatório as considera habilidades “mensuráveis, ensináveis e significativas”.
Também há evidências mais concretas. Estudos que vinculam a empatia a comportamentos pró-sociais (como compartilhar, ajudar, ceder) e a uma maior consciência ambiental. Não porque quem recicla seja mais empático, mas porque quem imagina o impacto de seus atos costuma deixar menos lixo para trás.
É possível ensinar empatia? Evidências e intervenções eficazes
Há quem acredite que a empatia não se ensina. Que se tem ou não se tem, como ouvido musical ou boa pontaria. Mas não é assim. A pesquisa já aponta há tempos que a empatia, como outras habilidades humanas, pode ser treinada. E cuidado: não estamos falando de fabricar santos nem de impor uma emoção politicamente correta. Falamos, antes, de cultivar uma capacidade muito necessária no mundo atual: a de notar que os outros também existem.
Uma revisão sistemática publicada em 2019 analisou os efeitos de 28 intervenções baseadas em mindfulness em crianças e adolescentes. O resultado foi claro: muitas delas melhoravam a empatia e, em alguns casos, também a compaixão. As mudanças não eram espetaculares nem automáticas, mas sim consistentes.
Na prática, ensinar empatia não exige aparelhos de última geração. Pode-se trabalhar com jogos de papéis, debates estruturados, análise de personagens literários ou cinematográficos, arte colaborativa, dinâmicas de reflexão em grupo. Algumas escolas fazem isso sem chamar dessa forma, simplesmente criando espaços onde os alunos possam se ouvir sem interrupções ou zombarias. Outras transformam em programas com nome próprio e avaliações rigorosas.
Um exemplo interessante é o INTEMO, um programa espanhol de inteligência emocional aplicado em escolas públicas de ensino médio. Foi desenvolvido ao longo de dois anos, com sessões que combinavam atividades artísticas, jogos, cine-fóruns e trabalho sobre emoções. Os resultados, publicados em 2013, mostraram uma melhora significativa na empatia dos adolescentes (especialmente entre os meninos) e uma redução clara de condutas agressivas, raiva e hostilidade.
Outro caminho é trabalhar primeiro com os adultos. É a abordagem do Compassionate Mind Training (CMT), aplicado a professores no Reino Unido e em Portugal. Nesse caso, parte-se da ideia de que não se pode ensinar o que não se pratica. O programa inclui sessões de respiração consciente, exercícios de visualização, auto-diálogo compassivo e dinâmicas sobre vergonha e autocrítica. Na experiência portuguesa, os professores que participaram mostraram menos ansiedade, mais afeto positivo e, sobretudo, mais compaixão consigo mesmos e com os outros.
Faz sentido. Uma escola onde os adultos estão emocionalmente esgotados dificilmente pode ensinar compaixão. É difícil modelar empatia quando se está prestes a explodir. Por isso, muitas intervenções recentes começam cuidando de quem cuida. Não se trata de que todos os professores se tornem terapeutas, mas de que ao menos não ensinem a partir do cansaço.
A empatia, em resumo, pode ser ensinada criando condições para que emerja. E, sobretudo, acompanhando o processo com uma convicção básica: entender o outro não é fraqueza, mas uma forma de inteligência.
Segundo o relatório Skills for Life do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a empatia e a compaixão não são apenas qualidades desejáveis. São úteis. Melhoram a convivência, reduzem os conflitos, favorecem a cooperação.
Como integrar a empatia e a compaixão na escola hoje
Para ensinar empatia não é necessário reescrever a Constituição nem redesenhar o currículo nacional. Tampouco é preciso inventar uma nova disciplina. Às vezes basta mudar a forma como se ouve uma resposta, se lida com uma interrupção ou se reage a um conflito. Na realidade, muitas escolas já trabalham a empatia. Fazem isso, muitas vezes, sem saber.
A integração da empatia e da compaixão na vida escolar requer certa intenção. A primeira chave é que não pode ser uma “atividade decorativa”. Se for pensada como algo pontual (uma semana temática, uma dinâmica no fim da aula, uma ficha para preencher emoções), o efeito será mínimo. Não porque esteja errado, mas porque não é suficiente.
Há várias formas de fazê-lo com sentido. Pode ser incorporada em projetos de aprendizagem-serviço, nos quais os alunos identificam uma necessidade real em seu entorno e agem para resolvê-la. Ou em leituras guiadas que convidem a explorar o ponto de vista dos personagens. Ou em debates estruturados, nos quais não se ganha esmagando o outro, mas compreendendo-o. Ou em sessões de tutoria que não sejam meras assembleias de controle de conduta, mas espaços para conversar sem pressa.
Outra opção, mais sistemática, é a formação docente. Porque ensinar empatia sem tê-la trabalhado pessoalmente é como ensinar natação sem nunca ter entrado na água. Muitos programas atuais começam pelos adultos, não pelos alunos. Se um professor nunca teve um espaço seguro para falar de suas próprias emoções, dificilmente poderá facilitar um para seus estudantes.
Também se podem introduzir rituais breves, sem pretensões terapêuticas: uma pausa para respirar ao começar a aula, uma rodada de “como vai” sem levantar a mão, uma carta que não se entrega mas se escreve. Não transformam magicamente a convivência, mas criam pequenos hábitos de atenção mútua. Às vezes é suficiente.
Os obstáculos, é claro, não são pequenos. A sobrecarga de conteúdos, a pressão por resultados, a escassez de tempo e a tentação de recorrer à ordem pela via rápida fazem com que muitas escolas deixem essas iniciativas de lado antes que criem raízes. Mas algumas perseveram. E o que encontram, quando fazem bem, não é um milagre educativo nem um salto no PISA. É algo mais básico: um ambiente onde os alunos se sentem vistos. E onde a sala de aula se parece um pouco menos com um trâmite.
Medir para melhorar: avaliação e acompanhamento
A empatia e a compaixão podem ser ensinadas, sim. Mas quando se tenta medi-las, a coisa se complica. Não são algo facilmente quantificável. Não aparecem em gráficos vistosos nem se encaixam totalmente em escalas de desempenho. Ainda assim, a avaliação é possível. E, sobretudo, necessária. Porque se nada é avaliado, o que se ensina corre o risco de se tornar anedótico. E se avaliado mal, pode se tornar inútil.
O método mais difundido é o auto-relato. Pergunta-se diretamente aos estudantes como acreditam que sentem, quanto entendem os outros ou com que frequência agem para ajudar. A Escala Básica de Empatia, desenvolvida por Jolliffe e Farrington, é uma das mais utilizadas em adolescentes, com versões validadas em vários idiomas, inclusive o espanhol. Também se usa a Escala de Amor Compassivo de Sprecher e Fehr, que diferencia entre compaixão em relação a pessoas próximas e compaixão em relação a desconhecidos ou à “humanidade” em geral. Nesta última, curiosamente, a maioria pontua bem mais baixo.
Essas escalas funcionam razoavelmente bem, mas não são infalíveis. Dependem do nível de autoconsciência do estudante, de sua sinceridade e de seu desejo de parecer boa pessoa. Às vezes, a pontuação mede mais o ideal do que a realidade. Por isso convém complementar os auto-relatos com outras ferramentas mais indiretas.
Algumas escolas observam comportamentos concretos: quantos conflitos se resolvem sem sanção, quantos alunos intervêm para apoiar um colega, que tipo de linguagem é usada em sala. Outras recolhem relatos qualitativos, portfólios ou pequenos projetos que refletem compreensão emocional. Não são dados “duros”, mas dizem muito.
Em contextos de pesquisa, chegaram até a testar técnicas de neuroimagem: mostrar imagens com carga emocional e observar quais áreas do cérebro se ativam. Funcionam, mas exigem um laboratório, uma equipe especializada e uma considerável dose de paciência. Não é, por enquanto, algo que possa ser aplicado na avaliação comum de uma escola.
A chave está em encontrar métodos proporcionais ao propósito. Não é preciso transformar a empatia em uma disciplina com notas numéricas, mas sim garantir que os esforços tenham algum efeito. Às vezes bastará ouvir os próprios alunos: se se sentem mais compreendidos, se convivem melhor, se discutem menos e conversam mais. Nem tudo é quantificável. Mas algumas coisas, se não forem cuidadas, simplesmente desaparecem.
Uma escola empática é uma escola que transforma
A empatia e a compaixão não são uma moda educativa nem um luxo moral. São habilidades com respaldo empírico e impacto comprovado. Melhoram o clima escolar, reduzem a conflitualidade, fortalecem os vínculos e preparam melhor do que os logaritmos neperianos para a vida em comum. E o mais relevante: podem ser ensinadas.
Há escolas que já o estão fazendo. Algumas o fazem a partir de programas estruturados, outras a partir de gestos cotidianos. E embora nem todas tenham os mesmos recursos, podem compartilhar o mesmo propósito: formar pessoas que não apenas saibam pensar, mas também conviver.
O desafio agora não é técnico. É político e cultural. Trata-se de decidir se queremos que os sistemas educacionais continuem centrados em competências individuais ou se estamos dispostos a reconhecer que educar também é preparar para habitar o mundo junto aos outros.